Na primeira vez que as pessoas de fora da área do design ouvem falar sobre a experiência do usuário, elas estranham. É uma expressão no mínimo inusitada, e mais ainda quando combinada com a palavra design. Porém, como elas não são especialistas no assunto, e como se pressupõe que o designer da experiência do usuário seja, depois de um tempo, as pessoas aceitam por convenção que o designer da experiência do usuário esteja projetando experiências do usuário, seja lá o que isso for.
Mesmo entre os designers da experiência do usuário, não há um entendimento comum da expressão, de modo que há poucas formas de concebê-la, mas diversos modos de reconhecê-la. O modo mais comum é apontar “isso é uma experiência do usuário”, referindo-se a emoções e sentimentos vivenciados subjetivamente. Esse estranho reconhecimento, sem uma caracterização do reconhecido, é compatível com a primeira concepção de experiência do usuário que veremos abaixo.
Experiência como vivência subjetiva
A primeira concepção de experiência do usuário nasce diretamente das palavras do Donald Norman quando trabalhava na Apple, referindo-se aos aspectos subjetivos da usabilidade que estavam sendo negligenciados pelos engenheiros e designers da época. A usabilidade, como a “medida em que um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico” (norma ISO 9241-11) era entendida como uma qualidade ou propriedade da relação entre o usuário e o produto. Porém, talvez, pela ênfase em instrumentos de medidas “objetivos” e pela herança da ergonomia (também conhecida como “Fatores Humanos” nos EUA, e mais preocupada inicialmente com o trabalho manual, ao invés do intelectual e do entretenimento), o último elemento da triade efetividade-eficiência-satisfação estava sendo parcialmente negligenciado. Donald propôs a expressão para enfatizar (ou compensar) essas qualidades de uso, primeiramente, entendidas, como satisfação no uso, e pouco depois, entendidas, como aspectos subjetivos do uso.
Substituindo o último elemento da triade, de satisfação no uso por aspectos subjetivos no uso, toda uma ampla gama de conceitos foi inclusa, trazidas como especiarias da psicologia e ciências cognitivas: percepção, pensamentos, emoções, sentimentos, memória, aprendizagem, modelos mentais, propiciações & outros eventos, processos e estruturas psicológicas, que embora parecessem misteriosas ou de caráter místico, já eram estudadas pelas disciplinas mencionadas acima de forma científica há mais de um século.
Realizando a próxima operação sob o conceito, os conhecimentos sobre a tal da subjetividade foram quase esquecidos, e o entendimento comum era de que a experiência do usuário era algo único, algo que não precisávamos definir, algo que só precisávamos sentir (o que, venhamos e convenhamos, tinha certas semelhanças com a fé religiosa).
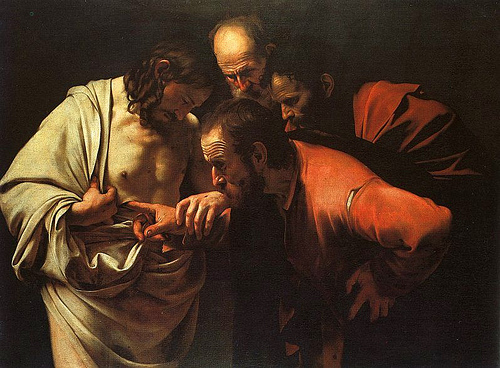
Portanto, da transformação da satisfação no uso para a subjetividade no uso para a subjetividade total, foram passos rápidos. Essa concepção ambígua e vaga era conveniente para o designer da experiência do usuário. Afinal, quase todos projetos digitais tinham como característica a tal da experiência do usuário, e uma definição tão genérica não poderia ser contestada. Ao designer, desta forma, é dado um status de xamã, o especialista sobre os assuntos do “fantasma na máquina” de Descartes, um terreno inacessível aos profissionais que o circulavam, como publicitários, programadores e tecnólogos. Porém, a expressão de tão usada e abusada, segundo o próprio Norman, acabou perdendo qualquer sentido, por poder se tratar de tudo e de nada (para não dizerem que não falei das flores: para a psicologia, a subjetividade é entendida como o conjunto de interações verbais da pessoa com ela mesma e interações com seus próprios eventos privados, ou seja, a subjetividade é uma parcela dos fenômenos psicológicos estudados, não é igual à sua totalidade, nem à experiência).
Essa concepção, como podemos ver, enfatizava um internalismo ou mentalismo da experiência do usuário, como se esta fosse algo que estivesse dentro dele, e portanto algo que somente ele pudesse ver ou sentir, por meio da introspecção. Não é necessário lembrar que para a grande maioria dos psicólogos, os pensamentos, sentimentos e outros aspectos que chegam à consciência (todos eventos naturais, sem envolver nenhum dualismo cartesiano) são mais exceções do que regras, sendo que a maior parcela ocorre de forma inconsciente. Ora, se nem o próprio usuário na maioria das vezes, poderia avaliar se teve ou não uma determinada experiência, muito menos o designer teria como avaliar isso. Essa concepção da experiência do usuário também era conveniente para o designer, já que ele nunca poderia fracassar em seus projetos. Uma vez que, iniciado o uso, a experiência de uso sempre ocorreria, independentemente ou não da intervenção do designer, ele sempre conseguiria criar uma experiência do usuário.
Porém, a proposta original do design da experiência do usuário não deve ser subestimada. O DUX fez o designer entrar em contato com aspectos muito mais amplos que o mero projeto de websites e aplicativos como fins em si, o que correspondeu a uma mudança de paradigma (desculpe-me pelo termo acadêmico clichê) em diversas áreas do design. Ao invés de ter o artefato como o seu próprio fim, o artefato é concebido como um meio. Não se deve fazer pouco caso dessa mudança de paradigmas, pois foi uma mudança radical, se levarmos em consideração que desde o início do design enquanto prática profissional, suas sub-áreas foram definidas não por seu objetivos, mas pelos meios de produção que se inseriam (como exemplo, podemos mencionar as duas grandes divisões entre o design industrial, que se caracteriza por se inserir no processo de produção industrial, e o design gráfico, que se caracteriza por se inserir no processo de produção gráfica).
Experiência como interação
Aos poucos, porém, os autores da área tiveram que definir melhor a expressão (embora quanto mais vago a expressão fosse, melhor para o designer que não poderia ser contestado, as discussões tiveram início, de uma forma ou de outra). No site da Nielsen Norman Group (onde encontramos o Donald Norman, o Jakob Nielsen, entre outras figurinhas), encontramos a seguinte definição:
‘Experiência do usuário’ envolve todos os aspectos da interação dos usuários finais com sua empresa, serviços e produtos.
Peter Morville, por sua vez, no que ficou conhecido como “The User Experience Honeycomb”, dividiu os elementos da experiência do usuário em aspectos como: utilidade, usabilidade, encontrabilidade, credibilidade, acessibilidade, desejabilidade, e valor. Não é preciso muito esforço para entender que estes aspectos não são qualidades do usuário ou do produto, mas propriedades da relação entre o comportamento do usuário e as características e comportamentos do produto.

Da mesma forma, como a usabilidade era entendida como uma qualidade de uso, ou seja, uma propriedade da interação entre o usuário e o produto, os demais aspectos apontados por Morville também se tratam de relações. Em pesquisas sobre o comportamento supersticioso, por exemplo, falamos da incontrolabilidade, como uma relação na qual o comportamento do organismo não controla os eventos subsequentes, estes ocorrem independentemente do seu comportamento, de forma que o organismo age “como” se controlasse seu ambiente, mas quando na realidade, trata-se de uma ilusão de controle, de um comportamento supersticioso. A experiência do comportamento do organismo ser seguida de efeitos desejados (mas não produzi-los) explica tal comportamento do organismo. Da mesma forma, desde o início da psicologia, atribui-se à experiências passadas o comportamento presente (como por exemplo, a experiência de abuso sexual causar o comportamento presente do abusado; da mesma forma a experiência de uso causar o comportamento presente do usuário).
Portanto, aos poucos, a experiência do usuário, a medida que ia sendo gradualmente definida, ia perdendo a concepção subjetivista e internalista, para ganhar uma concepção interacionista.
Mesmo o termo experiência, na psicologia de forma geral, tem esse caráter mais interacionista do que internalista: “experiências sensoriais” descrevem o contato com algo através da percepção; “experiências sensorimotoras” descrevem a interação com algo através dos sistemas motores e perceptivos; “experiências subjetivas”, por sua vez, descrevem os significados impostos pelo homem aos eventos do mundo, através de sua interação com o mesmo. É neste sentido que falamos que alguém tem experiência em determinada área ou que alguém é experiente nessa área; como história de interação da pessoa com a área. Não é uma questão de externalismo público contraposto ao internalismo subjetivo, mas sim uma questão lógica que segue o raciocínio das ciências naturais: se quisermos entender e explicar o comportamento, temos que procurar suas relações com outros eventos, ao invés de postular um agente iniciador interno (como os alquimistas postulavam o flogisto para explicar o fogo). A história ou experiência (entendida como relações entre o comportamento e o ambiente, seja esta história filogenética, ontogenética ou cultural) de um organismo tem um papel determinante aí.
O designer da experiência do usuário
Como vimos, o termo experiência pode ter ao menos dois significados: o de vivência subjetiva interna e o de história de interação. No segundo sentido, a experiência é a responsável pelo comportamento. Na realidade, essas histórias de interações entre o comportamento e o ambiente, que chamamos de experiências, são o que causam o comportamento: sem me aprofundar muito em questões técnicas, de acordo com o modelo de seleção por consequências de Skinner, as experiências da espécie produziram um repertório de reflexos inatos, padrões fixos da espécie e predisposições ao aprendizado; as experiências de uma pessoa ao longo de sua vida produzem comportamentos que modificam seu ambiente e estas alterações ambientais por sua vez, acabam selecionando o repertório comportamental da pessoa; as experiências com uma cultura produzem comportamentos que se qualificam como práticas culturais, comportamentos aprendidos e que se propagam entre os membros da cultura. É um determinismo histórico, embora probabilístico? De certa forma, sim, pois eventos futuros não poderiam afetar eventos presentes, logo apenas os eventos passados e presentes podem determinar o comportamento da pessoa e dos demais organismos.

Portanto, sim! De uma vez por todas: podemos projetar experiências do usuário. Mas não no sentido de vivências subjetivas internas (isso seria mirar para o alvo errado), mas de interações entre o ambiente construído (artefato, sistema, produto) e o comportamento do usuário. Essa conclusão, embora distorça o senso comum da área por inverter os termos da equação, tem duas possíveis implicações alternativas:
- A legitimização ou validação da expressão “design da experiência do usuário”: o design da experiência do usuário consiste em projetar experiências do usuário – relações entre o ambiente construído, predominantemente digital, e os comportamentos de uso – para produzir ou influenciar comportamentos;
- Ao invés de definirmos nossas atividades pelos meios, podemos definir por seus fins: projetamos experiências com a finalidade de influenciar comportamentos. Como vimos, ao adotar a proposta do “design da experiência do usuário”, esta foi uma grande mudança de paradigma: ao invés de definir a área pelo seu meio (gráfico, industrial, digital), a área foi definida pelos seus fins (a experiência subjetiva). Substituindo a (experiência como) vivência subjetiva como fim, pela (experiência como) história de interação como meio, chegamos ao Design para o Comportamento.

 Agende uma sessão
Agende uma sessão